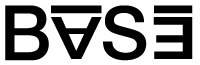Ana Beatriz Zimmerman, Ana Tereza Groisman, Angela Bernardes, Fátima Pinheiro, Isabel Duarte, Marcia Zucchi, Marcus André Vieira, Marcus André Vieira, Maria Inês Lamy, Maria Silvia García Fernández Hanna, Mirta Zbrun, Romildo do Rêgo Barros, Silvia Salman
Fátima Pinheiro
Estamos chegando ao final destas Jornadas de Cartéis. Estou muito feliz com o acolhimento que foi dado à aposta que fizemos de que a experiência de cartel pudesse nos ensinar sobre o que seria uma experiência de Escola.
Os participantes desta mesa conversarão com Silvia Salman, AME da EOL e da AMP, nossa convidada especial. Todos os colegas que tiveram a função de comentadores em mesas que aconteceram ao longo das Jornadas participarão desta conversa. São eles: Isabel Duarte, membro da EBP/AMP; Marcia Zucchi, membro EBP/AMP; Marcus André Vieira, AME da EBP/AMP; Maria Silvia Hanna, AME da EBP/AMP, e Romildo do Rêgo Barros, AME da EBP/AMP.
A proposta desta mesa é de que cada um deles traga pontos que extraíram ao comentarem os trabalhos das mesas de que participaram, com a orientação de recolher algo da experiência de Escola a partir da experiência de cartel.
Romildo do Rêgo Barros
Em toda Jornada de Cartel se salienta a importância dos cartéis. Isso é um sintoma nosso: a cada vez, precisar retornar a uma afirmação de que os cartéis são importantes, imprescindíveis e insubstituíveis etc. Estive pensando: isso não é uma falha nem um fracasso, isso é a característica mesma do cartel.
Lembrei-me de um comentário que Lacan faz sobre a criação da IPA, profundamente crítico e, ao mesmo tempo, surpreendente na radicalidade: ele diz que a criação da IPA, em 1910, foi permitida por Freud. Ele coloca Freud dentro do problema. Não diz “são os traidores de Freud…”; ele diz que Freud permitiu sua criação para que a psicanálise não corresse o risco de desaparecer[3].
A escolha que Freud tinha, segundo Lacan, era que a instituição ficasse fora da experiência analítica. Quando o sonho de Lacan, o sintoma de Lacan, era tentar articular a experiência analítica à política institucional, foi o esforço de toda uma vida. Que característica, então, tem o cartel, se se trata de um serviço prestado a uma instituição que está internamente ligada à experiência analítica?
Foi isso que constituiu esse sintoma das Escolas e dos cartéis e, sobretudo, das Jornadas: quer seja sob a forma de um depoimento clínico, quer seja sob a forma de uma teorização; ou sob a forma de um testemunho de cartel como experiência política. Todas têm esta característica, que são exigidas por uma conjuntura de uma ligação muito difícil de fazer: entre o funcionamento político e a experiência analítica.
Maria Silvia García Fernández Hanna
Acontece, aconteceu, acontecido – essa palavra a-con-tecer traz esse com. Estamos sós, mas não tanto; estamos com outros. Estamos aqui tentando tecer, fazer um tecido discursivo. Cada comentador, de alguma maneira, foi fisgado por algum ponto naquilo que ouviu.
Vou falar do que aconteceu comigo ontem ao comentar três trabalhos: “Maria é católica”, “Furto de um desejo” e “Ao final do cartel, o caso que anima”.
Três trabalhos, três casos clínicos.
Foi uma mesa que articulou clínica e cartel, uma mesa que conseguiu colocar à prova a possibilidade que o cartel traz de que o cartelizante possa retornar à sua experiência clínica e escrever; tomar a palavra, comunicar isso. Acho que cada uma delas – Márcia Renda, Caroline Noël e Silmar Gannam – deu testemunho disso.
“Maria é católica”: um caso encerrado, pelo menos temporariamente. A pergunta de Márcia foi: “O que aconteceu durante esses nove anos de trabalho?”. Foi um trabalho com uma pessoa que chegou após três tentativas de suicídio. Nove anos sem novas tentativas, nove anos de vida que têm alguma relação com a possibilidade de que essa moça pudesse sustentar uma fala.
“O furto de um desejo” permitiu abordar o tema da interpretação à luz dos últimos ensinamentos de Lacan. “Ixe, deu merda”, o “ixe” separado da “merda” provocou uma reviravolta. Trata-se de uma subversão discursiva que impede que se volte ao mesmo lugar.
O caso trazido por Caroline nos fez pensar o lugar do cartel na medida em que ela levou uma pergunta aos cartelizantes e recebeu uma resposta que não respondia automaticamente, e que a relançou a uma orientação diferente. Caroline conseguiu precisar que o problema do caso, ou a questão fundamental para ela era o manejo da transferência.
Tivemos, então, um caso que questiona como o trabalho pode incidir nas passagens ao ato. Tivemos o caso do furto, que mostra a interpretação como aquilo que, ao subverter discursivamente, promove mudanças importantes na vida. Já o caso trazido por Caroline indica a importância do manejo quando, como de costume, a transferência aparece na vertente do alojamento do analista em um lugar não muito confortável.
Isabel Duarte
O que tomei da mesa que comentei foi o aspecto subversivo da estrutura do cartel. Esse foi o significante que se decantou da segunda mesa de ontem, o aspecto de subversão de cada testemunho. Os três trabalhos falam disso – algo testemunhal da experiência de cartelizante no sentido da subversão, em oposição ao que seria revolucionário.
Ontem, falei um pouquinho dessa diferença: a revolução como aquilo que parte de um lugar, dá toda uma volta e chega ao mesmo lugar. Por exemplo: há um rei, há um mestre, corta-se a cabeça e entra um outro, que não é igual. Eu estava falando com a Sarita ontem, no final da mesa: as revoluções têm sua função essencial, porque os mestres não são todos iguais; os reis não são todos iguais, há diferenças; e a revolução tem seu lugar.
Mas o que nos interessa aqui é o que a psicanálise pode recolher nessa passagem – interessante o que o Romildo estava falando da relação entre a experiência analítica com a institucional. A pergunta que fica é: qual é essa relação entre o singular e o coletivo, com a qual o cartel se depara o tempo todo?
Na mesa que comentei ontem, isso se deu de várias maneiras, em cada trabalho. O primeiro trabalho, para conseguir fazer essa passagem do singular ao coletivo, lança mão da arte: também é uma experiência absolutamente singular e, ao mesmo tempo, totalmente coletiva.
No trabalho de Ana Tereza Groisman, ela localiza na experiência de cartel dela, em um cartel da Nova Política da Juventude (NPJ), um apólogo, uma passagem que transmite algo disso. Ela se passa no primeiro encontro do cartel, em que havia um Analista Membro da Escola (AME), dois analistas praticantes e dois analistas da NPJ (membros sob condição). Quem está no lugar de AME propõe que se resolva quem será o Mais-um. Então, um dos NPJ se precipita, explicando quais seriam os efeitos para ele ou ela em ocupar esse lugar de Mais-um. O outro membro sob condição interpreta de alguma maneira, assinalando que, ao se precipitar em responder, já tomava para si o encargo da função.
Há, aí, uma estrutura temporal que inclui a precipitação e que ensina algo que não é uma passagem como “cortem a cabeça dos AME, coloquemos o NPJ no lugar”, mas, ao contrário, algo do ato falho que faz aparecer o subversivo da própria estrutura do inconsciente. Isso subverte o que talvez fosse o institucional massivo mais distante da experiência da psicanálise, que seria: “o mais experiente é o Mais-um, porque o Mais-um é quem sabe mais”, algo próximo de um grupo de estudos. O que apareceu in loco foi essa experiência subversiva que o cartel produz nessa relação entre singular e coletivo. E não à toa, no terceiro trabalho, Doris traz como sustentação da demonstração dela o efeito subversivo do cartel. Ela usa o testemunho de passe de Victoria Reinoso, dando notícias dos efeitos subjetivos e singulares que a experiência de cartel teve sobre ela.
O vetor do coletivo para o singular é o mais imediato que recolhemos a todo momento na experiência de uma análise, nas experiências mais diversas com o inconsciente. O esforço da mesa de ontem foi pensar como fazer o caminho inverso. Doris cita um testemunho de passe que transmite a passagem da experiência coletiva do cartel para o singular que se testemunha ao final de uma análise. Isso demonstra como há algo dessa experiência do singular que gera efeitos no pequeno coletivo e, consequentemente, no grande coletivo, que é a Escola.
Marcia Zucchi
O que surgiu para mim do trabalho na minha mesa foi a função do cartel na produção desses trabalhos. Eu até ousaria pensar que, quando essa produção se torna um acontecimento para o sujeito que a produziu, é porque há algo do cartel que visa a isso. Se estamos falando em acontecimento, temos que falar de uma produção que traga algo da enunciação do analista. A questão toca o que Marcus falou e o que Isabel também está dizendo agora: essa passagem do singular ao coletivo.
Para mim ficou a pergunta: o cartel teria, na transferência de trabalho, uma certa presentificação dessa vertente do amor, que permite que cada participante saia do um-dividualismo do seu gozo e apresente sua falta? Isso seria um caminho para que algo realmente novo possa acontecer, como uma experiência de amor à Escola, por exemplo. Essa foi uma das coisas que me chamou a atenção. Outra coisa tem relação com a própria experiência da Jornada, porque, na minha mesa, e em outras também, vi o efeito que se produz de trazer à Escola, para além do cartel, o que se trabalhou. Isso produz retificações, mudanças no próprio sujeito quando ele enuncia. Isso é absolutamente enriquecedor e bom para todos nós.
Marcus André Vieira
Vou comentar brevemente o trabalho de Isa Gontijo, em que o desenho da subversão fica muito bem imaginarizado. Ela foi lá em cima pegar o farrapo. E a subversão não é que ela tenha encontrado o farrapo; não é que agora ela tenha o farrapo. A subversão é que ela desce para mostrar, e quando ela chega aqui já não é mais a mesma sala. Isso é subversão: quando você vem com a coisa, já não tem o mesmo lugar; e você não vem com a coisa, é a coisa que vem, e o lugar já não é mais… Maria Silvia comentou que subversão é quando você volta e já não está mais no mesmo ponto. Isso é a subversão: ela destrói o que havia antes; por isso, é tão corrosiva, tão difícil. Por isso, podemos entender os cartéis como um lugar de experimentação dessa subversão, como algo que desloca, reconstrói a situação, e não apenas taca fogo nela. Isso é muito corrosivo para quem está do lado das formas instituídas. Talvez por isso Miller, depois de Lacan, tenha criado estruturas para estabilizar a Escola, por exemplo, o Instituto. Ele diz: a Escola de Lacan é muito subversiva; é preciso alguma outra estrutura que permita que ela não se dissolva, ou que ela possa se dissolver sem desaparecer, a cada vez. O cartel talvez seja uma experiência desse tipo.
Aproveito para comentar também o que Camila trouxe sobre o que, afinal, é especial na experiência das Jornadas de Cartéis: talvez seja o lugar onde possamos nos permitir ser mais ao modo do cartel.
Por último, voltando agora à minha mesa, queria insistir na ideia de que a subversão é a singularidade que acontece no Outro e não “em casa”, “na solidão da sua análise”. A solidão da sua análise é no Outro também, porque é o seu Outro histórico, o Outro que o analista vai encarnar. No final, a única coisa que encarna esse Outro é um resto, mas ainda é Outro. Acredito, como Isa falou, que é o corpo. No final, é algo que não deixará de viver em você, mas é alteridade. E isso é sempre algum Outro, é sempre mais ou menos coletivizável.
Gostaria de insistir nisso porque estamos em tempos em que precisamos pensar algo diferente das nossas fórmulas que têm um caráter aparentemente universal. Estamos em tempos que destroem o universal, que não querem saber do universal, porque o universal tem poder de violência, e o universal cada vez mais é mostrado e apresentado em suas formas de dominação e coerção. Que tal pensar em comum, em vez de universal, por exemplo? A análise vai de algo que é de um para um – para uma singularidade em um novo comum. Ela vai de algo que força o seu “um”, sua história, para uma singularidade que se apresentará no novo comum, e não uma singularidade que não se apresentará em lugar nenhum. Senão, teremos o fracasso do passe: aqueles que terminavam a análise não queriam contar. Ou seja, não estavam envolvidos na ideia de fazer acontecer esse “um-comum”.
A Escola precisa que as pessoas se alienem dizendo, se alienem produzindo. Isso depende de uma espécie de decisão pessoal – não só, mas também. É claro que depende de um lugar que torne isso possível. As Jornadas de Cartéis são um lugar em que costuma ser possível, por isso que elas são boas: para que possamos nos alienar um pouquinho para poder produzir um pouco.
Silvia Salman
Gostaria de agradecer à mesa e dizer que acompanhei atentamente as Jornadas e o trabalho de vocês. Sinto-me um pouco intrusa pela proximidade que tive com o que tem sido produzido. Por isso, tentarei conversar com vocês a partir dessa intimidade, já que o trabalho de cartel é, na Escola, o que melhor sustenta esse tipo de aproximação.
A respeito do que Romildo dizia no início, sobre o sintomático de estar sempre evocando a importância e a presença do cartel, penso que há um fundamento, digamos, traumático no fracasso do cartel.
Isso me remeteu a um comentário de Miller que em espanhol chama-se “La doctrina secreta de Lacan sobre la Escuela”[4]. A chave desse comentário, e do que ele considera a doutrina secreta, é que Lacan introduziu o analítico no institucional. Introduzir o analítico no institucional é o que permite manter a Escola como tal. E o analítico no institucional é, fundamentalmente, o passe, porque se a Escola pode verificar o final de uma análise através do dispositivo do passe, o final da análise é introduzir o analítico no institucional. Mas o cartel também tem relação com isso, porque o cartel, em sua própria estrutura, responde ao discurso analítico e não a outro discurso. Ao longo das discussões de ontem, alguns abordaram a diferença entre um grupo de estudos e o cartel, por exemplo. Parece-me que o que é subversivo no discurso analítico e no trabalho da Escola é que o discurso analítico não tem a vontade de domínio, ao contrário de outros discursos. Introduzir o analítico no institucional tem o valor de introduzir o imprevisto na rotina institucional, ou, se preferirem, a tyche no automaton.
Nesse sentido, acho que podemos pensar a importância de que o cartel e o passe existam, a cada vez, porque são os únicos dois dispositivos onde o discurso analítico pode existir dentro da instituição. Além disso, temos muitos lugares que são de ordem institucional, por exemplo, as Jornadas de Cartéis. As Jornadas de Cartéis podem certamente ser feitas de discurso analítico, mas têm um formato institucional.
Enfim, acho que foi isso que disparou o formato dessas Jornadas, além de haver considerado o fracasso. Portanto, a questão é: como preservar, tanto quanto possível (não o tempo todo, isso é impossível), o discurso analítico – isso é que é subversivo. E o que Marcus disse é verdade: Miller criou outros espaços dentro da Escola… mas dentro da própria Escola nem tudo se encaixa nessa categoria. Enfim, em princípio, trata-se de valorizar o que há de analítico no institucional. Acredito que isso também possa ser aplicado à experiência singular do cartel, à experiência de cada um no cartel.
A respeito das duas mesas que foram mais clínicas, a pergunta que a Marcia se fazia me pareceu interessante: como o cartel incide na produção dos casos? Eu me perguntava: o cartel pode se transformar em grupo de supervisão? Não sei se isso existe no Brasil e no Rio em particular, mas aqui, na EOL, ou em Buenos Aires, existem grupos clínicos, há muito disso. Então, qual é a singularidade do trabalho quando se trata do clínico no cartel? Penso que há aí um ponto que merece uma discussão: o que se valoriza, em um cartel, quando cada um leva sua prática clínica? Como preservar esse espaço de cartel e de produção sem que isso se transforme em supervisão ou em um grupo clínico? São algumas questões para levar em consideração.
O que a Isabel contava da eleição do Mais-um em um dos trabalhos me parece interessante porque dá conta disso: que o Mais-um seja alguém da Nova Política da Juventude já vai contra qualquer vontade de dominação. Nesses pequenos detalhes é onde encontramos o subversivo e onde se pode captar que aí se trata do discurso analítico.
A ideia do acontecimento trabalhada na abertura é da mesma ordem: como ler que se produziu algo da ordem do analítico? E talvez a última mesa, que trabalhou a questão da poesia, tenha sido interessante porque foi onde melhor se pode capturar como se conjuga o singular com o coletivo no trabalho de cada um dos cartelizantes.
Adorei a expressão do Lucas, “escrever sem querer”. Bem, sem querer, querendo, como se diz. Trouxe-me uma ressonância de Sutilezas analíticas, o curso do Miller, quando ele, se referindo ao desejo do analista, diz: “fazer o que há de ser feito”[5]. Essa fórmula, que é a do guerreiro aplicado a fazer o que há de ser feito, me pareceu interessante para pensar o produto do cartel. O que se produz não é o que se espera. Faz-se o que se faz, sem querer, no sentido de algo que tem que ser feito e isso se impõe.
Mirta Zbrun
Silvia, quando você fez seu passe, foi marcante para nossa comunidade aqui, foi fantástico. Por acaso, chegou para mim uma apresentação do Miller no Senado, em 2013; não sei se isso chegou a você. Eu li e reli várias vezes, mas sempre parava em um ponto. Uma noite, acordei e voltei nesse ponto, e eu vou ler para dizer uma coisa nesta belíssima Jornada. Miller estava falando no Senado francês sobre mariage pour tous – matrimônio para todos. A frase é: “É bom constatar que o gozo faz intrusão no ser humano por refração”[6]. Parece-me interessante trazer isso aqui pois no cartel se produz algo desse gozo, esse choque no nosso fantasma particular. A intrusão é a penetração no nosso gozo. A questão que quero trazer é sobre as dificuldades de trabalhar em um cartel, a questão do trauma, a questão do choque, justamente. No cartel, vamos com tudo o que somos, incluindo, por exemplo, nossos fantasmas.
Angela Bernardes
Uma coisa simples, em que me detive a pensar, é a questão da enunciação. Nessa trama: análise, cartel, Escola; talvez o que haja em comum seja a enunciação. O que é a enunciação de analisante na Escola, no cartel? Não é a mesma coisa que se diz na análise, mas será que a gente pode dizer que é do mesmo lugar que se enuncia?
Ana Tereza Groisman
Lembrei-me de um texto que li recentemente em que se fala do cartel como um instrumento, um instrumento no sentido bem simples da coisa[7]. Como quando se bate um prego é preciso de um martelo. Ele fala que é um instrumento, um meio pelo qual se executa o trabalho da Escola, como se não tivesse outro meio que não fosse esse, que coloca em intenção o coletivo e o singular, esse que é a célula mínima da Escola. É a Escola em um tamanho diminuto, mas, ao mesmo tempo, contém toda a estrutura da Escola em si mesma.
É interessante pensarmos no cartel – e nós temos feito isso aqui na Seção Rio –, no uso do cartel em várias situações. Vocês trouxeram o exemplo da diretoria do Instituto, que se reuniu em cartel para pensar um trabalho do Instituto. Fizemos as Jornadas Clínicas do ano passado, onde todas as plenárias se reuniram em cartéis fulgurantes. Temos o cartel per se, que fazemos para trabalhar questões nossas, que estão atravessando a nossa clínica. Acredito que esse lugar do uso do cartel é plástico, é múltiplo. Não precisamos fixar um lugar só. O cartel tem essa propriedade de ser multiuso – como o analista.
Ana Beatriz Zimmerman
Eu fiquei com a última frase que Silvia comentou: hacer lo que hay que hacer, do Miller. Ao buscar, encontrei o que ele fala da posição do analista: tratar de hacerlo bien pero con apatia, alejado de las pasiones. Fazê-lo bem, longe das paixões; nesse sentido, com apatia.
Também pensei como essa frase “fazermos o que temos que fazer” escapa da ideia de ter que se cumprir um ideal de Escola ou de obedecer ao ideal do supereu, mas coloca o foco no produto e na sua construção.
Mônica Hage
Gostaria de trazer uma pergunta que me acompanha desde 2023, na Jornada de Cartéis da Seção Bahia, em que apresentei um trabalho sobre os efeitos do papel do Mais-um no cartel. Miller, em “Cinco variações sobre o tema da elaboração provocada”[8], diz que o Mais-um não é o sujeito do cartel, “mas sim cabe a ele inserir o efeito de sujeito no cartel, tomar seu cargo à divisão subjetiva”. Minha pergunta é se haveria algum ponto de interseção entre o Mais-um – provocar a produção de um saber – e o desejo do analista. Será que podemos pensar algo nesse sentido? Eu estou com essa questão há um tempo.
Isabel do Rêgo Barros Duarte
Gostaria de continuar nessa conversa com a plateia e introduzir mais um significante, um conceito, na verdade, a partir da ideia que Ana Beatriz trouxe ao retomar a frase “a gente faz o que tem que fazer”, que é o ato: essa frase toca na estrutura do ato.
Fiquei me perguntando por que eu quis agregar mais esse conceito: porque acho que ele dá uma pista útil para o que estamos falando dessa passagem do singular para o coletivo. Isso aparece lá no trabalho de Ana Tereza, na escolha do Mais-um, em que foi essencial que tenha sido uma precipitação quase como um ato falho. E que isso tenha sido interpretado também por outro membro NPJ. Tem alguma coisa dessa estrutura que demonstra a estrutura do ato.
Maria Silvia Hanna
Gostaria de pedir à Silvia que volte um pouco ao tema da supervisão, que é um tema candente. Ontem, na mesa, eu perguntei às pessoas qual teria sido a função do cartel na escrita de cada trabalho. A gente escaparia do efeito de supervisão? Claro que o cartel não se propõe a dar supervisão, mas será que alguns se utilizam desse espaço para fazer a supervisão e evitar a outra supervisão, que seria mais na intimidade? Isto também poderia ser um risco.
É um tema que tem uma certa tensão, mas ao qual vale a pena voltar, porque diz de um dos tripés da formação do analista que muitas vezes é evitado durante longos períodos. Há pessoas que dizem que não fazem supervisão. Então, a pergunta é: para onde escoam as questões que os casos trazem? Para onde eles levam isso? Será que os cartéis, de alguma maneira, funcionam como almofadas ou ajudam a evitar a supervisão? É um tema que me interessa e que também vem interessando bastante ao Conselho da EBP, que está às voltas com esse tema da supervisão, fundamental para nossa comunidade.
Sílvia Salman
Sobre isso que Maria Silvia traz, me surgiu a partir de alguns colegas da EOL que propuseram fazer um cartel, e me propunham como Mais-um para trabalhar os casos clínicos para o congreso da AMP. Então eu pensei: o que é isso? É um cartel para trabalhar conceitos fundamentais como não há relação sexual, há sinthoma, há gozo… conceitos clínicos, sim. Mas não se trata de trabalhar com os casos, porque o trabalho com os casos se faz na supervisão. De fato, a gente constrói o caso para levar para a supervisão. Agora, também não me parece que a gente não possa trabalhar algunas questões clínicas no cartel, inclusive da própria prática. Acredito que seja uma questão para ser pensada e para ser trabalhada. Sobre a pergunta do Mais-um que traziam, está no Mais-um poder orientar o trabalho do cartel. Pode orientá-lo para o lado da prática ou da supervisão, ou pode orientá-lo para um trabalho clínico. O cartel é um meio para um fim, então, como fazer uso desse meio?
De qualquer maneira, talvez se possa pensar em outros temas. Pode ser uma espécie de defesa de ir à supervisão. Armar grupos clínicos, armar cartéis clínicos pode ser um trabalho que evita a exposição, que implica construir um caso e apresentá-lo em um espaço de supervisão. A prática mesmo não se divide num espaço clínico. A gente pode dividir os casos clínicos, mas não a prática, não o próprio ato, essas são questões que se dividem no espaço de supervisão. Mas me parece que isso entra como um dos usos do cartel. É interesante perguntar por quê a Escola faz uso do cartel. De fato, a Jornada que vocês têm feito aqui é um uso do cartel a serviço da Escola e o que vocês têm trabalhado, de fato, tem valor de acontecimento. Mas logo aparece o uso que cada um faz, que talvez seja, como a Mirta disse em relação à dificuldade do trabalho no cartel: o uso que cada um faz, se é fanstasmático ou sintomático.
Sobre o produto e o escrito, ontem, Romildo, quando você localizava a questão do fracasso, você mencionava que não havia muito conhecimento dos produtos epistêmicos do cartel. Achei essa questão interessante: se pensamos na ordem do fracasso, onde localizar o fracasso do cartel? Porque se não se conhecem os resultados epistêmicos, aí o fracasso estaria, então, em como acolher os resultados que cada um produz no cartel. Houve uma seleção? Houve pessoas que enviaram trabalhos e foram selecionados?
Fátima Pinheiro
Não houve seleção, foram aceitos todos os trabalhos. Claro que se autorizou a entrada de todos esses trabalhos, mas não houve seleção.
Silvia Salman
Acho isso interessante como traço dessas Jornadas de Cartéis. Em outras jornadas há uma seleção, enquanto que para as Jornadas de Cartéis não há. Isso me parece analítico: sob qual critério poderia o produto de alguém que trabalha em um cartel, que é um órgão-base da Escola, ser selecionado? Parece-me uma diferença que vale a pena destacar.
Há um dispositivo na Escola que pode recolher o trabalho de cada um que faça a experiência de cartel e, como Lacan disse no “Ato de fundação”[9], vai lhe dar a repercussão que merece.
Quero comentar algo de que lembrei sobre a frase “fazer o que tem que ser feito” e a apatía. Miller trabalha para nomear o afeto que convém ao analista: ele o chama de desapego. Miller chega a ele passando pela apatia, mas o nomeia melhor como desapego. “Fazer o que tem que ser feito” vai bem com o desapego: escrevo o que tenho que escrever e me desapego do traço que havia no cartel, como aconteceu com o Lucas. Havia um traço do seminário sobre a psicose, mas ele escreveu sobre Nietzsche. Isso tem relação com o desapego que é, em parte, desapego do fantasma, das identificações, do ideal, do supereu. Quanto mais desapegado estivermos, melhor fazemos o que tem que ser feito.
Maria Inês Lamy
Eu estava achando “apatia” estranho. Entendi que é se descolar das próprias questões, não estar ali com o próprio gozo. Nesse sentido, desapego se aplica melhor.
Gostaria de falar de algo que me chama a atenção no texto do Miller, “Cinco variações sobre elaboração provocada”[10], que é um excelente texto, muito lido em cartel. Ele traz algo muito importante e que para mim foi uma novidade: que o Mais-um tem que ficar um pouco no discurso da histérica. Para mim, isso foi um acontecimento, porque exatamente você fica perguntando, colocando o outro para trabalhar, botando o cartel para trabalhar. Não é no lugar do analista – é claro que pode ter efeitos analíticos, mas é sobre o não-saber e ficar no lugar de provocar trabalho.
Romildo do Rêgo Barros
Gostaria de salientar um termo que foi usado, que se tornou comum aqui entre nós e que Sílvia acabou de usar: o termo desapego. Desapego, como o afeto estratégico do psicanalista, tem relação com o que Lacan comenta[11] de que, no final da análise ou com o efeito da análise, existe uma certa equalização dos objetos, uma tendência a tomar cada objeto como se fosse qualquer um, até certo ponto, claro. Politicamente, podemos pensar – já que estamos falando disso neste instante – como um efeito concreto: uma certa facilidade de flutuação do organograma. Digamos que a estrutura da Escola se torna mais flutuante se o afeto exigido ou esperado dos psicanalistas é o desapego.
Depois de ouvir Sílvia, percebi que isso tem uma estrutura muito parecida com a da associação livre, que Freud inventou para que as palavras transcorram. Ela significa também uma certa equalização dos objetos. Isso é uma invenção da psicanálise. Na política comum, ocorre exatamente o contrário: é preciso que nos apeguemos à importância única de um objeto. É muito bem-vinda, na nossa jornada, a utilização do afeto do desapego.
Sílvia Salman
O desapego não é contrário à paixão. De fato, no Seminário 8, A transferência, há um capítulo dedicado ao analista e suas paixões[12]. Por que a gente estaria livre das paixões? A questão é que, a partir de nossa análise, podemos fazer um uso dessas paixões de certa forma. Isso é o desapego, mas não sem a paixão.
Isabel Duarte
Isso me fez pensar que, nesse texto, Miller vai passando pela apatia, pelo entusiasmo, também diferenciando o desapego do entusiasmo. O desapego não é sem paixão, mas é sem ideal, sem Deus dentro de si – do entusiasmo. Talvez isso seja a equivalência dos objetos.
Marcus André Vieira
Queria me deter um pouco no modo como estamos encaminhando essa discussão. Lançamos uma ideia e dizemos: “não é bem assim, não é bem assim”, vocês repararam? Aliás, Miller diz isso em El nacimiento del Campo Freudiano[13]: a nossa abordagem é fática, no sentido de que chegamos ao real a partir do que ele não é, é sempre “não é”, porque o real de que queremos falar não tem um nome certo. Vejam que aconteceu exatamente isso no caso da apatia e do desapego de que vimos falando agora há pouco. A gente diz que é apatia e depois diz que apatia não é; a gente diz que é desapego e depois diz que também não é bem assim. E começamos a ter uma impressão de que falamos de alguma coisa e que nos entendemos. E, às vezes, vem uma palavra que consegue dizer algo do real.
Então, temos, de vez em quando, uma palavra que diz um real, que tem poder de nomeação, como temos palavras que se aproximam dele. A que diz faz efeito de corte e ato, as que se aproximam sucessivamente nos inserem numa ideia de continuidade. Por exemplo, precisamos pensar que há um afeto do analista, mas sabemos que isso é um perigo, porque o analista não tem um afeto único, na duração. Então, como fazer? Vamos com a continuidade, com a ideia de que há um afeto e, de vez em quando, um ato que nomeia um singular que nos libera da continuidade. Um exemplo que me ocorre foi o que aconteceu com a palavra entusiasmo. Lacan usou “entusiasmo” para dizer que isso tem a ver com o final de análise[14]. A partir daí, todos começaram a entender que era preciso ser entusiasmado na duração, na continuidade. E vamos dizer “não”… E será sempre assim: para falarmos do real, nós vamos tanto por um caminho de “não é” quanto de “é, mas não é bem assim”.
Então, Isabel trouxe a ideia do ato, e Sílvia trouxe a do desapego. Precisamos das duas coisas. O ato da Sílvia em nomear o desapego aqui teve um efeito fundamental, ainda que tenha sempre esse contra efeito de “não é bem isso, não é bem isso”.
Marcia Zucchi
Eu fiquei fisgada pela questão da Mônica: se existiria conexão, e quais seriam, entre a posição do Mais-um e o desejo do analista. O desejo do analista não é um desejo puro, mas desejo de obtenção da diferença absoluta. Nesse sentido, de fato, há um certo “não se contentar” para que o outro produza mais. Do ponto de vista discursivo, poderia ser uma posição próxima da histérica, com uma certa insatisfação. Não precisa ser insatisfação mal-humorada, mas do tipo “acho que tem mais” – claro, estou forçando um pouquinho aqui – de levar o outro a produzir um pouco mais. Nesse ponto, me parece extremamente parecido com a posição do Mais-um, que está sempre abrindo um pouco mais e tentando forçar a produção. Acho que a palavra certa é forçamento mesmo: forçar um pouco a produção de algo mais.
Sílvia Salman
Para retomar o que o Marcus dizia, “é, mas não é”. O Mais-um e o desejo do analista, porque o desejo do analista é produto de uma análise, certo? E é produto do ato analítico, é algo que se obtém da própria experiência analítica, enquanto o Mais-um se elege no cartel. Enfim, ambos compartilham, creio, isto que eu disse sobre a doutrina secreta de Lacan, de introduzir o analítico no institucional. Mas não é, especialmente, porque o desejo do analista surge como produto da análise. O cartel, nesse sentido, tem outra estrutura, outro uso, outro modo de o Mais-um surgir. Por exemplo, no cartel que a Isabel comentou, o Mais-um surgiu de um participante da NPJ que interpretou outro participante da NPJ. Acho que essa é a diferença. Sobre o modo de operação, é provável que haja algumas coincidências, de causa, fundamentalmente. É o lugar da causa.
Fátima Pinheiro
Agradecemos à Sílvia Salman por esta conversa, aos participantes da mesa e a cada um dos participantes das Jornadas de Cartéis da EBP-Rio, que trouxe sua experiência única de Escola!