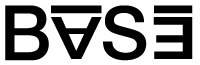Cristiane Barreto[3]
“Você é alguém que olha, ou põe mãos à obra?”[4] As respostas vêm mesmo sempre antes das perguntas; afinal, fazer um filme é por mãos à obra do olhar. Assistir a um filme é constatar que somos tocados por imagens em sequências que nos são alheias, dirigidas por um Outro. Comentá-lo é consentir com o enigma de vermos na tela o que não percebemos facilmente em nós. Dessa maneira, um filme pode revelar algo de um enigma ou do mistério que nos tornamos para nós mesmos.
Qual o plural de solidão? Qual o singular de destinos? O que se inscreve no traço que se prolonga, encurta ou faz atalho no cruzamento da linha da vida com a linha do amor? O corpo é corroído pelo acaso? Estamos sempre às voltas com algo que não cessa de não se inscrever. Mas, vez ou outra, nos esbarramos com o que faz cessar, parar de não se inscrever, e algo, então, se escreve na vida de cada um.
O filme é dividido em atos. Blackouts os dividem. E esse corte demarca uma nuance impactante: o filme tem em seu centro a subjetividade de uma mulher e, através do escuro que intercala os atos, nos apresenta também a sua ausência.
Do denso poema “Entre centro e ausência”, de Henri Michaux[5], poeta belga, Lacan[6] extrai uma frase sobre a mulher, afirmando que “sua forma de presença está entre o centro e a ausência”. Sobre a mulher, talvez não se trate mesmo de saber o que ela é, e tão mais improvável é a tentativa de saber “o que ela quer”, embora caiba arriscar algumas respostas a cada vez. Então, situá-la no entre dois de um espaço é um alento amplo.
Percorre-se linha tênue. No primeiro ato do filme, o corpo se compõe como peças avulsas, peças soltas. Eis o olhar de João Dumans na tela dos corpos displicentes e compenetrados com o tempo de uma manhã lenta. Filma-se um pedaço do braço, um pé, a beirada de uma barriga, a esquina de um movimento.
Na cena seguinte, um ponto demarca a linha – Vivi faz com o amigo Douglas o que a primeira paciente de Freud fez com ele: pare de perguntar, escute. A câmera parece escutar essa ordem, condição de se capturar a radical diferença de cada um. E segue documentando o que não se inscreve.
“O filme da Vivi”, como minha irmã[7] o chama, é um documentário, mas apenas se entendermos que uma narrativa conta uma história até mesmo com o que escapa. É documentário – investiga, quer saber –, narrando fatos de poesia. Tem cena de cinema no documentário que não é filmada: a cena na qual a memória conta o encontro com o amor, o sexo e o trem. A memória é mesmo um trem ora parado, ora em movimento.
O que se assiste em As linhas da minha mão é, sobretudo, que não é fácil construir um corpo de mulher, nem de habitá-lo. Ora ele se aquieta demais, ora se agita, enlouquece de ser sem lugar. Amamos um corpo e, por isso, achamos que o temos, embora ele seja o que mais nos escape[8]. No corpo, os furos emitem sentido, decorrente das experiências de satisfação, que funcionam como marcadores, espécie de escrita indecifrável.
A nossa realidade é uma película tênue e temos identidades que se atropelam e podem cair como uma pele morta[9]. A única versão de nós mesmos que de fato se sustenta é a “identidade sintomal”, como diz Miller – a do corpo do qual não podemos escapar, com seus furos e as experiências de cada um, triviais e sem igual. Importam as marcas indeléveis, extraídas dos momentos em que um dizer marcou nosso corpo[10]. Uma das respostas de Vivi é exemplar: “O resto eu não tenho dúvida, porque eu vivo em meu corpo”. Alguns enredos caem, outros permanecem escritos em As linhas da minha mão.
A Viva[11] ensina. Ela sabe fazer com os divinos detalhes que tocam e amarram seu corpo, à sua existência e ao seu pensamento. Tem “chave buarqueana”[12]. Circula por reinos sensíveis onde “o delírio é valorizado”, desinteressado no “corpo mídia”, atento ao “modo contínuo” de cada um se reinventar.
Mas também testemunha o deboche tosco. O despreparo do cuidado. Aliás, o surgimento de Tom Zé como médico não podia ter sido alguém melhor; afinal, é dele a frase: “ao persistirem os médicos, consultem os sintomas!”. O sintoma não tem cura, porque é ele mesmo curador. Uma resposta singular ao mal-estar inerente à civilização. Lacan diz que “o texto corrente de uma vida humana” é composto por “uma cadeia bastarda de destino e inércia, de lance de dados e estupor, de falsos êxitos e encontros desconhecidos”[13].
O cuidado preciso (o precioso) revela o que o tratamento é quando a política de Saúde Mental não está em sofrimento. Tempo bem propício para lembrar que a tal lógica manicomial salta os muros, é coisa de discurso e de ações, ora explícitas, ora sutis, ações de segregação.
Um tratamento possível indica condições e tem camadas específicas a cada invenção. Bom mesmo é quando a construção sustentada por um sujeito modifica a lógica e pontos do funcionamento de um serviço, passa a ter lugar ou dar um lugar para a existência. Nesse sentido, como não falar do Lê? Um ponto de basta, ancoragem, companhia. Ele é o tom da leitura, o que faz arranjos. Não é mesmo qualquer pessoa que ganha uma rosa do Tom Jobim! Compartilhamos, plenamente, da inveja do Leandro, de uma “inveja deliciosamente feminina”, como disse Freud. O Tom deixou mesmo uma música chegar ao seu destino. (Das Rosas)
O circuito do tempo no filme parece ser aquele do círculo da Vivi, que traz para perto o passado e o futuro, de um presente em cena. A música permeia de movimento o ritmo do filme. No tratamento dado à música, a voz, esse pedaço de corpo, sonoriza (lindamente) o olhar.
E o que fazer para tratar a dor de existir? Ela faz um nome: Viva. E inventa um sintoma: a arte, a performance, os Sapos e Afogados. Na cena da sombrinha azul clarinho, onde o tempo da chuva passa; se a beleza é o último véu que recobre o horror, no filme é uma sombrinha de um azul clarinho, de hastes meio desgastadas, o manto que recobre a dor ou ao menos testemunha a travessia. A sombrinha não guarda a chuva, contorna uma Viva linda, de movimentos sutis, contemplada por câmera discreta. Ficar parada é movimento difícil, cheio de coragem e força. Em cena longa, uma travessia de pura pausa, não se sabe para onde. Parece evitar tempestades.
Incontornável a lembrança da definição de Freud sobre a melancolia: a sombra do objeto recai sobre o eu. Há um sublinhado importante naquela cena. A morte da mãe é silêncio anunciado de vez em quando. Como suportar se separar do que não se separa? A gente sabe que perdeu, mas não o que perdemos quando perdemos alguém ou um amor. Por isso, com Freud, aprendemos que o luto é trabalho psíquico duro.
A concepção da loucura no filme de Dumans é lacaniana. Não é a loucura tomada como déficit, fúria, miséria ou aprisionada. É do feminino que se trata. Para Lacan, “todo mundo é louco, isso é, delirante”, porque “A mulher não existe”.
João filma a lua. Em um deslocamento metonímico, passando pela sequência das fotos em branco e preto, onde o diretor aparece quase imperceptível fotografando em reflexo no espelho, chega-se à cena da performance.
No mundo, existe um fenômeno chamado “mar de estrelas”: uma porção brilhante do oceano Índico que resplandece em azul em noite escura, como se fossem estrelas brilhando debaixo d’água; quando na areia, parecem reflexo do céu noturno. Trata-se de colônias de plâncton bioluminescente que flutuam pelo oceano; portanto, o mar de estrelas muda de lugar. E aparece na tela, no filme de Dumans. Na performance, Viviane de Cássia Ferreira molda um mar de estrela no corpo de uma mulher. Com fragmentos de lua, faz da construção de um corpo, material de cinema.
Podemos, portanto, percorrer um traço, como um fio, linha que se solta, indo das peças soltas do início do filme, passando pela cena da travessia da dor e chegando à cena deslumbrante do final, em que um corpo é fragmento fugaz de hipnotizante beleza. Pequenos fragmentos de luz. Vívido, mas não sem a opacidade de um borrão aquoso, colorido, escorregante. As mãos de Vivi deslizam suavemente sobre a carne, do brilho que se dissipa colado feito purpurina à câmera, que parece deslizar sensualmente sobre um corpo feito de olhar. Lacan considera que o olhar é tudo aquilo que reluz, como ponto luminoso que nos captura. O olhar está do lado do objeto que nos olha, mesmo sem nos ver. O olhar faz um corpo de cinema! Uma estrela de cinema, a Vivi. Uma cena que nos arrasta à tela, como visgo.
O filme parece, ele mesmo, ser o conector que permite a uma mulher ser outra para si mesma. Sem enlouquecer, sem sair de cena, uma mulher não-toda. Viviane de Cássia Ferreira empresta o corpo para encarnar a mais íntima ficção de si mesma. Com aquele seu anel escrito Love. É pura beleza frente ao impossível. Uma mulher entre o centro e a ausência. João Dumans sustenta a escolha do raro e revela isso com a elegância cuidadosa da direção. Eu só sabia dizer: o filme é deslumbrante.